Um livro à deriva: autocolocação e construção do livro na trilogia ficcional de Ruy Duarte de Carvalho
Contaminação de géneros, cruzamento e sobreposição de registos discursivos heretogéneos são habitualmente apontados como umas constantes na obra de Ruy Duarte de Carvalho, que vai do cinema à antropologia, da poesia à narrativa, do ensaio à crónica de viagem, num discurso que, como várias vezes tem sido justamente observado, não se pode – pela amplitude e complexidade do pensamento e da experiência que o geram – encaixar nas convenções e nos limites de um determinado género ou espaço discursivo. Se isto é verdade, o facto de o autor ter concebido, nos últimos anos da sua vida e da sua actividade literária, um projecto ficcional tão orgânico e complexo como Os Filhos de Próspero adquire um significado especial, uma vez que testemunha a precisa intenção de confiar ao romance a narração de uma experiência cultural e humana de grande valor, que não se poderia expressar plenamente em outros tipos de textos, como, por exemplo, o ensaio etnográfico. A este propósito, para poder conduzir uma interrogação do livro e do romance nesta obra, convém olhar em primeiro lugar para Vou lá Visitar Pastores (1999), que, situando-se no limbo dos géneros, marca a transição para a ficção, que se revelará de forma clara com a publicação de Os Papéis do Inglês, dois anos mais tarde.
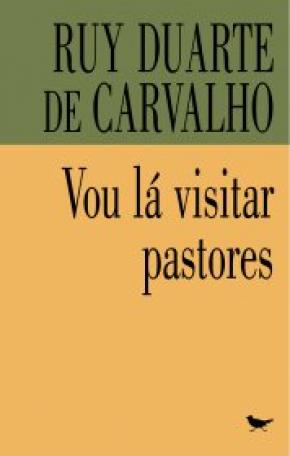
O interesse principal do livro assenta na tentativa, amiúde referida pelo narrador, de expor, expondo-se e de situar, situando-se, isto é, de combinar a exposição dos seus conhecimentos acerca da sociedade kuvale com a da sua própria experiência – não só factual como sobretudo interior: “Dizendo-te dos outros estarei a dizer-te inevitavelmente muito mais de mim mesmo e ainda quando, como vamos fazer agora, o objectivo for o de fornecer-te informação tão objectiva quanto possível […]” (Carvalho 1999: 99). Este processo, a que é dado o nome de autocolocação, responde a uma evidente deslocação de pontos de vista e de interesses, que coincide com um cada vez maior envolvimento do etnógrafo com a comunidade que constitui o seu “objecto de estudo” e sobretudo com um forte questionamento dos pressupostos humanos e intelectuais que orientam a sua pesquisa. Assim, o narrador refere que, já inserido na trama das relações locais, a dada altura acabou por aperceber-se de ter abandonado a postura científica e, junto com ela, o quadro de referências do seu contexto de origem, a favor do sistema local. O resultado, no contexto do trabalho etnográfico é, evidentemente, controverso: por um lado, o etnógrafo conseguiu atingir um invejável grau de intimidade com a sociedade que se propunha estudar; por outro lado, o envolvimento pessoal ofusca a lucidez necessária para esse trabalho ter dignidade científica. Neste contexto, é fácil perceber as razões da opção pelo romance, cujas implicações são aqui discutidas. Com efeito, o romance revela-se terreno privilegiado para a articulação das duas vozes do verbo expor, a transitiva e a reflexiva, a de quem se vira para outro objecto e a de quem se desdobra em si próprio, reconhecendo a inevitabilidade deste movimento. E é este movimento que, a partir dos Papéis do Inglês, determinará também a organização de um projecto romanesco fundado na centralidade da inscrição autoral, numas narrativas que, diversamente, não poderiam existir, uma vez que a experiência sujetiva é condição para que o romance nasça e se desenvolva.
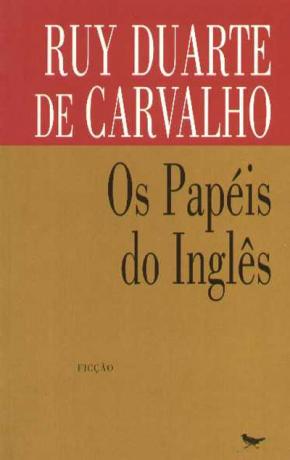
No entanto, é exactamente esta base real que se revela problemática no momento em que o autor se constitui como narrador, pretendendo transpor para a escrita uma experiência de vida. De facto, ao pôr em história uns acontecimentos extraídos do continuum do dia-a-dia, ele está inevitavelmente a ficcionalizá-los e a ficcionalizar-se ele próprio, desempenhando o papel de narrador e de personagem, que coincidem e ao mesmo tempo não coincidem com o autor dos romances. Já nos Papéis do Inglês o narrador mostra ter plena consciência deste desfasamento, que é assumido e discutido em todas as suas implicações:
Quem andava por ali, nessa altura, a cavalgar um land-rover pelas pradarias da Muhunda e do Brutuei? Era eu, bem entendido, mas não o mesmo que está agora a contar-te uma estória. A minha corrida atrás de uns papéis […] gera a acção de que há-de resultar uma segunda estória. Será da minha acção enquanto personagem, assim, que resulta essa outra estória que é, afinal a da minha elaboração da própria estória do Galvão. Vou ter que contar-me, tratar-me, pois, enquanto personagem dessa estória. E essa então será, comigo a actuar lá dentro e a primeira inscrita nela, a tal estória que tenho para contar-te. E quem narra não há-de ter, ele também, que dar-se a contar? Dito assim, dá para entender onde quero chegar? Ou é por demais directo, excessivo, para caber na narração? (Carvalho 2001: 38).
Nesta passagem, o narrador expõe deliberadamente os bastidores da narrativa que desenvolverá a seguir, reconhecendo os riscos mas, ao mesmo tempo, a necessidade de tal procedimento. A distinção entre narrador e personagem, que ele faz questão de salientar, é devida, por um lado, à óbvia discrepância temporal entre história e narração, a qual produz uma mudança no ponto de vista, uma vez que o narrador, no momento da narração, já conhece a estória na sua inteireza e tem, por conseguinte, uma perspectiva muito mais ampla da que teve enquanto personagem; por outro lado, sublinhando esta distinção, o narrador chama a atenção para o processo de (auto)ficcionalização que ele próprio desencadeou, colocando-se, ao mesmo tempo, dentro e fora da narrativa, e esboçando, por isso, os traços da sua relação consigo mesmo como personagem e como autor, relação a um tempo de identidade e de alteridade, que será ulteriormente problematizada nos romances successivos.
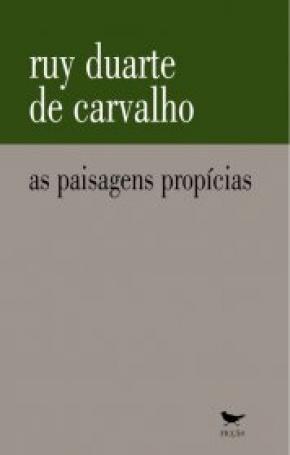
Neste processo de dupla colocação, a instância autoral é abalada pelas interferências de outras vozes, como, nas Paisagens Propícias, a da personagem de SRO, que representa um claroalter ego do narrador e que, a dada altura, num curioso jogo de troca de identidades, se lhe substitui, tomando as rédeas da narração. Tanto neste romance como na Terceira Metade, o estatuto das relações entre autor e narrador, livro e texto, realidade e ficção é encarado de maneira problemática, já que da sua interrogação depende a construção da narrativa e a conseguinte organização do livro. As dinâmicas internas ao primeiro par – instância autoral/instância narrativa – são-nos assim apresentadas numa das primeiras páginas do terceiro romance da trilogia:
…instalado no hotel Paralaxe do parque turístico local, que nessa altura do ano cobrava mais barato por ser estação baixa, das 5 da manhã às 3 da tarde durante os trinta dias que depois de ter feito as contas previ poder deter-me ali, convocava em mim o narrador que nestes últimos anos me tenho imposto às vezes ser, embora sem grande sucesso, parece… depois, quando às 3 da tarde de cada dia encerrava uma jornada de escrita, daí até às 5 da alvorada seguinte, o narrador (o autor constituído em narrador) só existia como destinatário das instruções, das intenções, das decisões, que cada noite o autor deixava assentes no roteiro… (Carvalho 2009: 21).
Ao pôr a tónica no desdobramento da figura autoral, que é aqui exposto e denunciado até nas suas implicações práticas, o autor está, de facto, a desautorizar-se, abdicando do papel de garante da unidade e da autenticidade do texto narrativo, cuja responsabilidade acaba então por partilhar com outras vozes. E ademais, na hora em que a dicotomia entre autor e narrador(es) é assumida como elemento constitutivo da construção ficcional, o problema das relações entre esta e a realidade que a sustenta volta a surgir como elemento desestabilizador. Isto torna-se muito evidente na Terceira Metade, quando o narrador interrompe a escrita devido a um acontecimento imprevisto, a saber, o desaparecimento do destinatário da narração, Paulino, cuja morte funciona como uma imposição do real sobre o ficcional, na medida em que quebra a ilusão em que este se baseava. Assim, a saída do narrador e a conseguinte interrupção da escrita na passagem do Livro I ao Livro II são o resultado do desaparecimento do seu par ficcional, o narratário, sem o qual ele não podia continuar a exercer a sua função. O destinatário da narração, de facto, tem a importante responsabilidade de “dar um jeito para descobrir o gosto de curtir o que lhe estão a contar, por um lado, e tanto bastaria para que o que ouve ou lê passasse a ser obra sua também…”, pois “jamais haverá obra bem escrita se ela não for bem lida…” (Carvalho 2009: 45). É a comunhão de intenções do narrador e do narratário que permite ao livro cumprir o seu destino, tornando-se obra partilhada entre quem a produziu e quem a recebeu. Por isso, a narração só prosseguirá em novas condições, quando o autor, empurrado pelos estímulos externos que o atingem enquanto se encontra em Berkeley, na qualidade de escritor convidado, decide retomá-la mas, desta feita, ele próprio, isto é, dispensando a figura do narrador que, até, então, se tinha interposto entre ele e a narração. Com efeito, se a existência do narrador depende do texto, a do autor depende do livro e é este, em última instância, que decide as sortes de um e do outro, impondo a irrupção, no mundo ficcional, da falta de sentido da realidade, que livro e autor partilham. É por isso que a morte de Paulino leva o autor a dispensar o narrador, cuja empresa se tinha revelado destinada a falhar, e decide continuar a narração, autocolocando-se nela e autoficcionalizando-se ele próprio e a sua vida.
Mas então, que tipo de livro será este, provisório, sujeito aos imprevistos do devir a que, malgré lui, pertence, estruturado por pretextos e desvios, perpassado por múltiplas vozes e destinado a ser completo só na hora em que é absorbido (ou antes destruído?) por outrem? Será, em última análise, um livro à deriva:
… será que todos os livros são afinal ‘ratés’, desconseguidos, em relação a uma qualquer planificação que lhes tenha obrigatoriamente assistido à partida? … tem livros de que a estrutura espanta, e encanta […] e que, ao fim e ao cabo, se são dessa maneira, assim, não é porque tenham sabido realizar-se em estrita e sábia, e segura, obediência a um qualquer programa prévia e engenhosamente projetado e calculado, mas antes conforme uma deriva que ela afinal é que acaba por estruturá-los… (Carvalho 2009: 177).
Segundo esta perspectiva, o que torna extraordinária a estrutura de certos livros é o desvio, o imprevisto, que provoca um afastamento do plano inicial, tornando-se elemento essencial da narrativa. Já vimos o impacto que um acontecimento inesperado, ocorrido no mundo extra-textual, teve sobre o desenvolvimento da narrativa da Terceira Metade. Apesar da dramaticidade do sucedido, que pôs em risco a própria existência do livro – ou talvez por isso mesmo… –, não se trata de um caso isolado na arquitectura dos romances da trilogia, pois o desvio é, na verdade, o contraponto de outro motivo recorrente nestas narrativas, o do pretexto. Todas elas, de facto, começam apresentando um objectivo a atingir (recuperar os papéis do inglês, encontrar SRO, entrar na posse de umas cassetes gravadas pelo Trindade), que abre o caminho ao labor narrativo, mas que acaba por revelar, ao longo da narração, o seu carácter, justamente, de falso centro. Assim, se o pretexto transmite ao texto um movimento centrípeto, relembrando constantemente o objectivo inicial, o desvio impõe o movimento contrário, mostrando a precariedade e, no fundo, até a inutilidade de todo o centro, todo o programa, toda a estrutura que se queira unitária e homogénea. Os dois elementos são, então, contrapostos e complementares, originando uma tensão que permite o desenvolvimento do livro.
A deriva do livro, devida a todas as problemáticas já apresentadas, revela-se, em última análise, elemento estruturante e, portanto, essencial na sua construção: ela testemunha a impossibilidade de cumprir o projecto inicial, originando, assim, uma tensão que permite o efectivo desenvolvimento da narrativa. Uma narrativa onde circularidade, não-linearidade, auto-referencialidade e provisoriedade cooperam para desestabilizar a problemática relação entre texto, livro e realidade, o primeiro com a sua tendência para a fragmentação e a dispersão, o segundo com os seus limites e obrigações formais, a terceira com as suas zonas de desordem que resistem a ser circunscritas e representadas. No meio, o (autor constituído em) narrador, encarregue de manter a tensão entre estas dimensões, condição incontornável para garantir a sobrevivência do livro. E assim, as qualidades atribuídas ao mais-velho Trindade, provavelmente partilhadas pelo nosso autor, poderiam também ser lidas como uma metáfora para este género de livro:
[estas] criaturas […] não visam tanto produzir uma qualquer imagem, sequer para si mesmos, quanto manter-se abertos ao imprevisível devir, à epifania da sua próxima forma […] sem sofrer da obrigação de serem unos… instalados na sua precariedade… seres para quem se alguma coisa no ser é essencial é a sua própria precariedade, a sua constante mudança que não condena o sujeito a tentar apreender-se como coisa existente, estável a ponto de existir enquanto forma fixada, objetivável… (Carvalho 2009: 365).
 Fotografia de Luís Barra
Fotografia de Luís Barra



Sem comentários:
Enviar um comentário